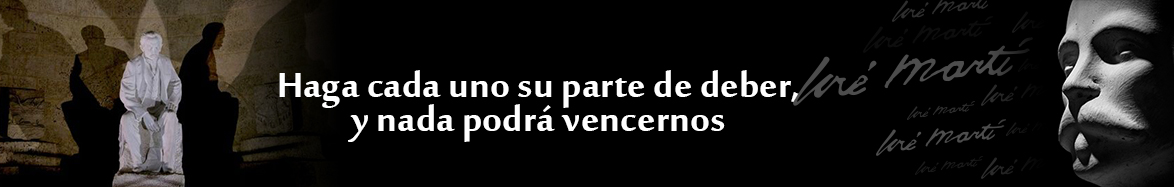Bombardeio dos EUA em Bagdá em março de 2003
Por: Olga Rodríguez
A invasão do Iraque há vinte anos já se deu sob premissas aceitas por parte significativa da mídia americana e européia. Milhares de vozes jornalísticas aceitaram em 2003 a mentira de Washington e Londres -apoiada na Espanha pelo governo de Aznar- que assegurava a existência de armas de destruição em massa no poder do regime de Saddam Hussein.
Os Estados Unidos prepararam uma tese complicada acusando o Iraque de ser uma ameaça para o mundo e até de forjar alianças com a Al Qaeda. Não importava que o regime iraquiano fosse secular e inimigo dos islâmicos ou que as alegadas evidências sobre armas de destruição em massa fossem grosseiras e inconsistentes. Grande parte da mídia ocidental não cumpriu o principal dever de seu ofício: duvidar, fazer perguntas, investigar e evitar assumir que a informação que vem dos grandes escritórios é a única informação válida.
Os jornalistas americanos que não apoiaram a tese do Governo sofreram descrédito ou indiferença
Não só isso. Alguns contribuíram para a segmentação e estigmatização dos jornalistas que questionaram as teses de Washington. Questionar o discurso oficial e alertar para os riscos da invasão do Iraque foi apresentado nos EUA como algo equivalente a apoiar o regime de Saddam Hussein. Aqueles que relataram a inconsistência das acusações do governo Bush ou alertaram sobre as possíveis conseqüências terríveis da guerra sofreram descrédito ou indiferença do mainstream.
Pude viver aquele ano de 2003 primeiro relatando os acontecimentos desde Bagdá e depois, após a invasão do país, sobre os movimentos políticos dos Estados Unidos desde Nova York. O contraste entre esses dois mundos era evidente. O Iraque, recém-invadido e ocupado, traumatizado por pesados bombardeios e massacres de civis, passava por uma nova fase da guerra. Os Estados Unidos, ainda afetados pelos ataques de 11 de setembro, viviam um contexto de medo com o qual tentavam justificar tudo.

No Iraque antes da invasão, os repórteres da capital iraquiana acompanhavam diariamente as idas e vindas de funcionários das Nações Unidas em Bagdá, cuja missão era verificar se havia ou não armas de destruição em massa no Iraque. “Como provar a inexistência de algo?”, alguns fiscais se perguntaram em reuniões informais com a imprensa.
Em 5 de fevereiro de 2003, em uma sala dilapidada do centro de informações de Bagdá, dezenas de jornalistas ocidentais ouviram a agora famosa aparição do secretário de Estado Colin Powell, na qual ele garantiu a existência de armas de destruição em massa no Iraque. Os editoriais de grande parte da imprensa no dia seguinte aceitaram suas declarações, que mais tarde seriam desmentidas.
Quando, dias antes dos primeiros atentados, os inspetores da ONU deixaram o país -independentemente de seu veredicto-, o Pentágono telefonou para os diretores de alguns dos principais meios de comunicação dos Estados Unidos para indicar que a imprensa estaria melhor integrada aos militares dos EUA e não na capital iraquiana trabalhando por conta própria.
As redes ABC e NBC aceitaram e imediatamente retiraram do Iraque seus repórteres estacionados em Bagdá, que vivenciavam uma enorme frustração profissional. Em alguns casos, foram substituídos por freelancers; em outros, simplesmente optaram por reportar com seus jornalistas inseridos nas fileiras militares dos EUA, muitas vezes sem a possibilidade de observar as consequências dos atentados em bairros residenciais, hospitais ou necrotérios.
Nas semanas anteriores, apenas 3 dos 393 entrevistados da ABC, CBS, NBC e PBS pertenciam a grupos antiguerra.
tentativas de controle
A ‘imprensa incorporada’ no exército foi forçada a assinar contratos concordando em não informar sobre a unidade militar, suas missões, suas armas ou localização. O tenente-coronel Rick Long, do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, explicou a função desse modelo de “jornalismo incorporado”: “Francamente, nosso trabalho é vencer a guerra. Parte disso é a guerra de informação. Então vamos tentar dominar o ambiente informacional”.
Três semanas após o início da invasão, o Exército dos EUA disparou contra três escritórios da imprensa não incorporada em Bagdá na mesma manhã, matando José Couso e Taras Prosyuk no Palestine Hotel – um ataque que dezenas de jornalistas testemunharam – e mais um repórter na sede da Al Jazeera.
Nos Estados Unidos, a maioria da profissão conformava-se com as teses do governo Bush. Alguns foram demitidos de seus meios de comunicação por serem céticos em relação às posições oficiais -Phil Donahue ou Peter Arnett- e as principais redes de televisão encheram sua programação com interlocutores que defenderam a operação militar.
Segundo dados do Fairness and Accuracy in Reporting, nas duas semanas anteriores à invasão, a grande maioria dos entrevistados na ABC, CBS, NBC e PBS eram partidários da posição do governo e apenas 3 -de um total de 393- pertenciam a grupos anti-guerra.
Quem fez a diferença
Boa parte dos profissionais de televisão nos Estados Unidos optou por colocar um broche com a bandeira americana na lapela de suas jaquetas. Os que não o fizeram foram criticados por comentaristas da imprensa e da mídia audiovisual.
Houve exceções na cobertura, especialmente realizada por quatro jornalistas que então trabalhavam para a cadeia de jornais Knight-Ridder -hoje extinta- e que informaram desde Washington sobre a falta de provas sobre a existência de armas proibidas no Iraque. Eles também provaram a falsidade de informações que atribuíam a identidade de um espião iraquiano a um dos perpetradores dos ataques de 11 de setembro.
Um desses jornalistas, John Walcott, ex-editor de Segurança Interna e Relações Exteriores da Reuters e Bloomberg News, agora é professor na Escola de Serviço Exterior da Universidade de Georgetown. Walcott observou recentemente que “as lições que os repórteres deveriam ter aprendido com as falhas na cobertura do Iraque são:
- Os jornalistas têm a obrigação de investigar se as alegações governamentais, corporativas ou outras são verdadeiras.
- O valor de uma fonte costuma ser inversamente proporcional à sua posição ou celebridade.”
Isso é verdade?: Esta é a pergunta que um jornalista deve se fazer toda vez que um governo, qualquer governo, faz uma reclamação
Jonathan Landay
Os outros três jornalistas da Knight-Ridder que fizeram a diferença foram Jonathan S. Landay, o falecido Joe Galloway e Warren Strobel, agora no Wall Street Journal. Landay explicou em diversas ocasiões que sua forma de agir era colocar em prática a essência do jornalismo, ou seja, fazer perguntas:
“Aproximamo-nos do nosso trabalho sempre nos fazendo a mesma pergunta: ‘Isso é verdade?’ É a pergunta básica que todo jornalista deve se fazer toda vez que um governo, qualquer governo, faz uma declaração.
Porém, após a ocupação do Iraque, à medida que as consequências desastrosas cresciam e as mentiras eram expostas, parte importante do jornalismo não atuou desenvolvendo ferramentas para prevenir coberturas tão pouco ajustadas à realidade – e que só toleravam perspectivas favoráveis à guerra – seria repetido no futuro. Em vez disso, ele se readaptou reescrevendo a história e criando novos argumentos para justificar a operação militar.
A maioria dos jornalistas que aplaudiram essa invasão com mentiras continuaram -e continuam- em seus postos
A maioria dos jornalistas que publicaram “exclusivos” sobre a existência de armas de destruição em massa e que torceram por essa invasão continuaram -e continuam- em seus postos ou tiveram promoções, com exceção da repórter do New York Times Judith Miller, demitida do o diário.
“Não havia relatórios, havia taquigrafia”, disse Walcott. “Foi muito difícil desempenhar o papel de cão de guarda da missão dos EUA no Iraque. Faltou um relatório de prestação de contas”, indicou. O veterano Dan Rather, ex-apresentador do 60 Minutes, refletiu em 2010: “Se tivéssemos feito nosso trabalho como jornalistas, acho que poderíamos argumentar que talvez os Estados Unidos não tivessem entrado em guerra”.
Nos anos que se seguiram à invasão, continuou a ser difícil apostar noutro tipo de cobertura. O então repórter da ABC Jeffrey Kofman foi um dos muitos exemplos. Ele sofreu uma campanha de ataques de vários meios de comunicação – o definiram como gay e canadense, como se isso diminuísse sua capacidade – por ter dado voz de Bagdá a alguns iraquianos e a um soldado americano crítico a Washington.
A confiança do jornalismo nas forças armadas
O desastre no Iraque começou a ficar evidente, mas o que muitos jornalistas receberam de seus superiores foi o slogan de que isso não era notícia, que não merecia mais atenção. Enquanto isso, violência, crimes, impunidade e dor se espalham por todo o país.
Alguns dos repórteres começaram a ouvir depoimentos de vítimas de tortura que haviam saído de prisões secretas com cicatrizes físicas e psicológicas. Alguns relatórios sobre isso foram publicados, mas a maioria optou por ignorá-los. As vozes dos árabes de pele escura não valiam o suficiente contra as reivindicações dos líderes americanos brancos. Não importava que eles tivessem mentido para nós repetidamente. A confiança de grande parte do jornalismo na oficialidade foi mantida. Se mantém.
Provas visuais, fotografias de prisioneiros torturados por soldados americanos, foram necessárias para que a grande mídia internacional desse crédito às denúncias das vítimas e promovesse a cobertura do chamado escândalo de Abu Ghraib. Mesmo assim, uma parte do jornalismo continuou – e continua – contando com a confiança e quase exclusivamente de fontes governamentais, desconsiderando a investigação e as questões pertinentes.
A imprensa soube que, desde que se mantenha muito próxima da linha oficial do Governo, não corre perigo nem enfrenta a possibilidade de sanção, por pior que faça o seu trabalho.
André Cockburn
Dito nas palavras de Andrew Cockburn, atual editor da revista Harper’s em Washington (a título de curiosidade, ele foi co-produtor do filme The Peacemaker, estrelado por George Clooney):
“A imprensa [estadunidense] aprendeu que, desde que se mantenha muito próxima da linha oficial do governo dos Estados Unidos, não corre perigo ou enfrenta a possibilidade de uma consequência negativa ou penalidade, não importa o quão mal faça seu trabalho jornalístico. . A lição mais importante aprendida por toda uma nova geração de jornalistas foi que a guerra é boa para uma carreira jornalística, não importa o quão ruim você seja em reportá-la.”
Seguir coletivamente as narrativas oficiais, por mais distantes que sejam dos fatos, não cobra seu preço. O oposto, sim. É do conhecimento de alguns jornalistas que em nosso país sofreram represálias por tentarem fazer uma cobertura honesta da guerra do Iraque.
Perante os contextos bélicos posteriores, boa parte dos meios de comunicação voltou a defender que a guerra é inevitável, que a diplomacia é inútil antes mesmo de a utilizar e que ser contra a via militar é, no melhor dos casos, antipatriótico.
erros repetidos
Como aconteceu com o Iraque, os riscos de uma intervenção militar na Líbia não foram suficientemente avaliados antes da referida operação, que implicou a introdução de armas -algumas atualmente em mãos de grupos descontrolados-, a fragmentação do país e o aumento da violência. região. Uma parte importante do jornalismo mais uma vez olhou para o outro lado quando essas consequências se tornaram conhecidas. Ou quando membros de organizações internacionais alertaram sobre a corrupção no Afeganistão e o perigo do colapso do governo de Cabul. Ou quando as vendas de armas para países como a Arábia Saudita dispararam. Ou quando o dinheiro enviado para o Iraque ou Afeganistão foi perdido.
Como os mecanismos de trabalho não foram modificados substancialmente, vários jornais, estações de rádio e estações de televisão ofereceram informações não verificadas do governo dos EUA indicando a morte de supostos terroristas – sob ataques de drones americanos – que já haviam morrido anos antes ou em outros países. Como alertou a organização Reprieve, em alguns casos esses indivíduos morreram duas, três ou até quatro vezes.
Boa parte do jornalismo mais uma vez olhou para o outro lado quando as consequências da guerra na Líbia se tornaram conhecidas
Hoje, os interlocutores que defenderam a guerra do Iraque ainda são convidados para os estúdios de rádio e televisão como comentaristas presumivelmente legítimos e imparciais, “distorcendo ativamente a informação que chega ao telespectador médio”, segundo a colunista de política externa Kate Kizer.
As consequências desastrosas dessa invasão continuam até hoje. Mas no chamado primeiro mundo, quase ninguém lembra quantas pessoas ajudaram a promovê-lo, quem enriqueceu com isso, quais foram os crimes e quais práticas jornalísticas não devem mais se repetir.
(Extraído do jornal)